
Pontos prévios:
Alfred Hitchcock foi, no meu entender, o maior mago de todos os tempos no que à sétima arte diz respeito. Da sua vasta obra contam-se pelos dedos de uma mão os filmes que ainda não vi;
Do texano Terrence Malick vi, até hoje, três filmes por si realizados: «Noivos Sangrentos» (Badlands, 1973), «Dias do Paraíso» (Days of Heaven, 1978) e «Barreira Invisível» (The Thin Red Line, 1998), o único que realmente valeu a pena. Em boa verdade, apenas perdi uma das suas quatro longas-metragens, só não vi «O Novo Mundo» (The New World, 2005) – agora em exibição nos cinemas portugueses;
A genialidade de Stanley Kubrick, interrompida abruptamente após a conclusão da sua última obra – que não viu estrear – «De Olhos Bem Fechados» (Eyes Wide Shut, 1999). De resto menosprezada pela crítica e aclamada pelo público – tão típico!
Missiva:
Caro Alfred,
Escrevo-te esta carta sem endereço conhecido, porém dada as tuas faculdades, que te transformaram em epítome da imortalidade, tenho a firme certeza de que lerás estas minhas ousadas palavras no português que, por certo, terás entretanto aprendido.
Não sei se já te informaram do fenómeno da morte no cinema? Saberás, porventura, o seu real significado? Saberás o que ela te deixou aqui na terra quando os rins te levaram num dia de Abril de 1980, tinha eu 7 anos, sem que houvesses sentido o real Vertigo da fama que o teu nome merecia?
Curiosa essa palavra morte – será uma Sabotagem da vida? – confuto, silêncio, paz eterna, desalmada, a única certeza que a vida nos traz e que, apesar da implacabilidade e da sua putativa condição transitória, contra ela lutamos com todas as forças que nos irão soçobrar nesse dia.
Mas na arte a Chamada para a Morte é a maior honra que o pintor, o escritor, o dramaturgo, o escultor, o arquitecto ou o cineasta poderá esperar. Passas a ser grande, incontornável, até infinitamente rico, apesar da vida cruel que eventualmente possas ter levado porque te esfalfavas a trabalhar para sustentar os teus. Mas disso tu saberás melhor do que eu porque pertencias ao meio, conhecias gente quase anónima que, com a Corda na garganta, a morte trouxe para as luzes da ribalta, apesar da vida apenas lhes haver trazido o contentamento da obra acabada, porém destruída por um grupo de não produtores que se limitam a recensear em quatro linhas de prosa, por vezes a raiar a Difamação, algo que te foi tão caro como um filho bem amado.
Por exemplo, Malick, lembras-te dele? Antes de a tua alma migrar como fazem os Pássaros – só que ao contrário deles sabe-se lá para onde –, já havia realizado dois filmes. Aquele com o inominável Gere e aqueloutro com o Sheen e a menina Spacek… Pois não compreendeste o estardalhaço do filme que se encaixava no género das tuas obras quase renegadas, como se fosse uma conspiração, uma Intriga Internacional ou em Família – a dos críticos ufanos. Hoje é um ícone da tua querida e saudosa indústria. Sim aquela que ajudaste a reinventar, com os teus cameos, travellings, planos quase sobrenaturais… eram como uma Casa Encantada para quem a vê do exterior e não consegue penetrar no arcano da soleira da porta, nem consegue sequer vislumbrar o que está diante dos olhos perante a Janela Indiscreta da tua obra, mesmo que com a sua Cortina Rasgada.
Pois o Malick… fez uma obra-prima já por cá não andavas havia 18 anos. Antes, havia criado uma aura pela ausência. Fez crer que só aceitaria realizar – obras escritas por ele – aquilo que potencialmente pudesse ser considerado como a obra-prima. E os críticos, naquela tão típica Psicose de exibicionismo do grau de intelectualidade, valoram-no, porventura, antes mesmo de visionarem o seu último filme. Hoje em dia, o crítico, depois de elaborar uma recensão, vê-se ao espelho como o Homem que Sabia Demais, como se lhe faltassem 39 Degraus para chegar ao topo da torre de marfim!
E Kubrick… coitado, tal como tu já não faz parte dos vivos! Paz à sua alma Desaparecida nesse insondável éter do qual fazes parte. Eu Confesso que teve sorte porque não teve de assistir à peroração da sua inesquecível valsa de Shostakovich, como se um Ladrão de Casaca, todo emproado, lhe quisesse roubar a alma já ida, que, eventualmente, é pertença daquele que há dois mil e seis anos nasceu Sob o Signo de Capricórnio.
Sabes, hoje os teus filmes foram quase todos reeditados, digitalizados e remisturados, e vendem-se em pacotes à dúzia. Os críticos, aqueles que votam com estrelinhas, mal uma obra tua acabada de retocar sai para o mercado apõem-lhe 5 à frente do nome. Mas se te fossem contemporâneos, acredita, terias umas noites mal dormidas.
Por esta altura, já te devo ter cansado em demasia com estes males do século. Logo, despeço-me aqui, com promessa de a ti voltar em breve.
Ladies and Gentlemen, good night!

 Und der Sieger ist… Peter Handke!
Und der Sieger ist… Peter Handke! Num mundo onde o fundamentalismo de carácter religioso vai somando pontos – materializado na terrível luta pela liberdade de expressão, pela qual pessoas são mortas, condenadas ou apenas proscritas em nome duma fé que em muito ultrapassou os limites da dignidade humana –, há um livro que, apesar da comicidade que encerra, nos fala desses tempos, não tão longínquos, onde a vida – apesar de ser entendida na sua transitoriedade entre o Céu e o inferno – era uma simples mercadoria à mercê de um poder feudal e de um entendimento criacionista engenhosamente construído pelo género masculino contra o símbolo terreno da mácula e da desvirtude representado pelo todo feminino.
Num mundo onde o fundamentalismo de carácter religioso vai somando pontos – materializado na terrível luta pela liberdade de expressão, pela qual pessoas são mortas, condenadas ou apenas proscritas em nome duma fé que em muito ultrapassou os limites da dignidade humana –, há um livro que, apesar da comicidade que encerra, nos fala desses tempos, não tão longínquos, onde a vida – apesar de ser entendida na sua transitoriedade entre o Céu e o inferno – era uma simples mercadoria à mercê de um poder feudal e de um entendimento criacionista engenhosamente construído pelo género masculino contra o símbolo terreno da mácula e da desvirtude representado pelo todo feminino.





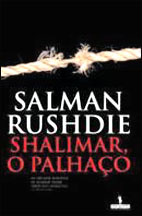







 Terminado o livro, iniciei a leitura do romance de Ali Smith. Se até aí o meu estado de espírito era lúgubre, sombrio e desassossegado, A Acidental foi o objecto que me retirou do quarto escuro e bafiento e me transpôs para um prado verde a perder de vista, sentindo uma brisa fresca e deleitosa a correr-me pela face.
Terminado o livro, iniciei a leitura do romance de Ali Smith. Se até aí o meu estado de espírito era lúgubre, sombrio e desassossegado, A Acidental foi o objecto que me retirou do quarto escuro e bafiento e me transpôs para um prado verde a perder de vista, sentindo uma brisa fresca e deleitosa a correr-me pela face.
