 Um segredo irrevelável? Uma confissão. Uma admiração desvelada.
Um segredo irrevelável? Uma confissão. Uma admiração desvelada.Não, não creio que seja inconfessável. É um grito sentido, sem medo e falsos pudores, de amor pela liberdade, pela democracia, pelo verdadeiro humanismo – importado, é certo, dos pensadores europeus – mas, como disse Pynchon, para ter humanismo, temos primeiro de estar convencidos da nossa própria humanidade.
Tenho, desde pequeno, uma admiração pelos Estados Unidos da América. É inegável e indisfarçável.
Porém, quando se admira algo ou alguém não significa que não se lhe reconheça os defeitos ou os comportamentos menos claros, até insidiosos. Por ser um americanista convicto é que me sinto com autoridade moral para desprezar um ignaro e troglodita chamado George W. Bush. Por exaltar a América sinto-me livre de complexos para poder censurar os resultados – que não vislumbrava à partida – do processo de democratização do Iraque, mesmo reconhecendo o forte peso das questões económicas e financeiras ligadas ao petróleo iraquiano no processo de tomada da decisão.
Mas… e a II Grande Guerra? E Alemanha e a Europa pós-1945? E o Plano Marshall? E o Japão? E o bastião de resistência e contra-ataque ao avanço do marxismo-leninismo despótico da URSS? E os direitos das mulheres? E as Nações Unidas em Bretton Woods?
Por gostar da América, do seu modelo de sociedade, do seu capitalismo dito selvagem, dos seus escritores, dos seus músicos, do seu cinema, não significa que não deixe de condenar a venda livre e discricionária de armas, a proibição fundamentalista do consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas. A invasão do Panamá. O apoio tácito a regimes ditatoriais de direita. A pena de morte que prevalece em alguns Estados.
Mas o que temos nós por cá? O grande humanismo da Velha Europa? O anti-imperialismo? As ruinosas políticas de intervenção social que só desfavorecem a própria força de trabalho? Diz-me de onde vens…
Em quantos países do mundo seria possível zurzir nas instituições nacionais e nos órgãos de soberania da forma que o fazem em programas televisivos nacionais como o Tonight Show de Jay Leno, o Larry King Live, o Daily Show de John Stewart ou em pessoas como o seboso manipulador da opinião pública Michael Moore? E na Literatura e no Cinema?
Por ser americanista, não poderei lamentar o assassinato de crianças inocentes no Líbano pelo exército israelita? Terei de me calar quando um irmão israelita morre pelo simples facto de apanhar um autocarro para se deslocar ao emprego? Pelo simples facto de querer viver? Terei de me calar perante a coarctação da liberdade de expressão, pela menorização das mulheres, pela prática da excisão feminina, pelo fundamentalismo religioso, pela tortura como prática corrente nos Estados totalitários do Islão? Terei de me calar quando vejo que na nossa blogosfera a extrema-direita e a extrema-esquerda defendem a aniquilação pura e simples do Estado democrático de Israel e a autocracia, o terrorismo e as ideias professadas pelos líderes celerados dos Estados muçulmanos?
Alguém tem medo da liberdade e da democracia?
PS: não fosse este blogue um diário expiatório e catártico para uma imensa minoria, cá esperaria os comentários estouvados e monoculares do costume.





 Era este o antigo epíteto para um paraíso cosmopolita chamado Líbano, o país dos cedros.
Era este o antigo epíteto para um paraíso cosmopolita chamado Líbano, o país dos cedros.


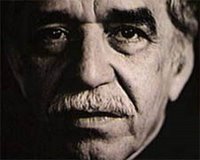


 No
No 




