
(n. 29/09/1912 – m. 30/07/2007)
Em baixo, a famosa sequência da sessão fotográfica de David Hemmings com a loura esplendorosa Veruschka von Lehndorff, no excepcional Blow-Up (1966):
«Glenn Gould said, "Isolation is the indispensable component of human happiness."» [Contraponto] «How close to the self can we get without losing everything?»
Don DeLillo, “Counterpoint”, Brick, 2004.


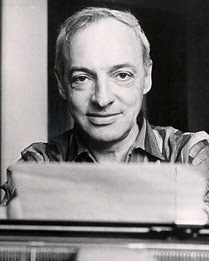 Belíssima e ilustrativa esta história do Lutz. Medonha e grotescamente verídica pela mera inferência do caso para uma realidade que julgáramos ultrapassada, ou então, restringida a uma realidade periférica. A (falta de) eficiência alemã e a política de extermínio do III Reich, Os Protocolos…
Belíssima e ilustrativa esta história do Lutz. Medonha e grotescamente verídica pela mera inferência do caso para uma realidade que julgáramos ultrapassada, ou então, restringida a uma realidade periférica. A (falta de) eficiência alemã e a política de extermínio do III Reich, Os Protocolos…José Luís Peixoto
Eu (n. 1972) identifico-me com esta geração. Para além das obras de sua autoria, a quase totalidade dos seus 20 livros faz parte de Os Meus Livros.
[Adenda, às 23:24]: a (minha) identificação atrás referida, parte do princípio (talvez erróneo) que os autores procuraram construir as suas listas seleccionando, na sua maioria, obras pertencentes à literatura contemporânea de ficção. Como notou o Henrique, com algumas excepções, faltam os grandes clássicos e as grandes obras ou tratados filosóficos. Suponho não ter sido esse o espírito do desafio. Mas como referi, trata-se apenas de uma suposição minha… talvez, crédula e pueril, porém, válida.
 Chuck Palahniuk (n. 1962), escritor norte-americano, de ascendência ucraniana, é actualmente considerado, a par de Bret Easton Ellis (n. 1964) e de Douglas Coupland (n. 1961), como uma das vozes mais inconformadas, um dos escritores de culto da denominada Geração X: a geração que se seguiu aos babyboomers do pós-guerra; seres rebeldes, livres e niilistas, nascidos nas décadas de 60 e 70, cansados, por simples tédio burguês, do american way of life, unindo-os um discurso ligeiro, coloquial e prático, entabulado pela alienação das massas, pelo consumismo, pela globalização, em suma, juntos são susceptíveis – ou, nesse caso, põem-se a jeito – de serem catalogados como epítome da frivolidade existencial contemporânea.
Chuck Palahniuk (n. 1962), escritor norte-americano, de ascendência ucraniana, é actualmente considerado, a par de Bret Easton Ellis (n. 1964) e de Douglas Coupland (n. 1961), como uma das vozes mais inconformadas, um dos escritores de culto da denominada Geração X: a geração que se seguiu aos babyboomers do pós-guerra; seres rebeldes, livres e niilistas, nascidos nas décadas de 60 e 70, cansados, por simples tédio burguês, do american way of life, unindo-os um discurso ligeiro, coloquial e prático, entabulado pela alienação das massas, pelo consumismo, pela globalização, em suma, juntos são susceptíveis – ou, nesse caso, põem-se a jeito – de serem catalogados como epítome da frivolidade existencial contemporânea. O romance, como o próprio nome indica, está redigido sob a forma de um diário, cujas entradas se situam entre os dias 21 de Junho – o solstício de Verão – e 3 de Setembro de um determinado ano. A sua autora, Misty Marie (Kleinman) Wilmot, narra os dias que se sucedem à gorada tentativa de suicídio do seu marido, Peter Wilmot, que, em resultado do terrível e caricato falhanço, se encontra em estado de coma num hospital que se situa fora da imaginária ilha de Waytansea – triste jogo de palavras, “wait and see”, é o local onde decorre a acção – ao largo da costa norte-americana do Pacífico.
O romance, como o próprio nome indica, está redigido sob a forma de um diário, cujas entradas se situam entre os dias 21 de Junho – o solstício de Verão – e 3 de Setembro de um determinado ano. A sua autora, Misty Marie (Kleinman) Wilmot, narra os dias que se sucedem à gorada tentativa de suicídio do seu marido, Peter Wilmot, que, em resultado do terrível e caricato falhanço, se encontra em estado de coma num hospital que se situa fora da imaginária ilha de Waytansea – triste jogo de palavras, “wait and see”, é o local onde decorre a acção – ao largo da costa norte-americana do Pacífico.«– Se calhar, as pessoas têm de sofrer a sério antes de se arriscarem a fazer aquilo de que gostam.
Tu disseste isto tudo à Misty.
Contaste-lhe que o Miguel Ângelo era um maníaco-depressivo que se representou a si próprio como um mártir flagelado num quadro. O Henri Matisse desistiu de ser advogado por causa de uma apendicite. O Robert Schumann só começou a compor depois da mão direita ficar paralisada e acabou a sua carreira como pianista concertista.
[…]
Falaste-lhe do Nietzsche e da sua sífilis. Do Mozart e da sua uremia. Do Paul Klee e da sua esclerodermia que lhe encolheu as articulações e os músculos levando-o à morte. Da Frida Kahlo e da sua espinha bífida que lhe cobria as pernas de feridas sangrentas. Do Lord Byron e do seu pé deformado. Das irmãs Brontë e da sua tuberculose. Do Mark Rothko e do seu suicídio. Da Flannery O’Connor e do seu Lúpus. A inspiração precisa de doença, lesões, loucura.
– Segundo Thomas Mann – disse o Peter – Os grandes artistas são grandes inválidos.
[…]
E a Misty começou a pintar.» (pp. 78-79)
«A análise da caligrafia e a escola do Método, o Angel diz que ambas se tornaram populares ao mesmo tempo. Stanislavski estudou a obra de Pavlov e o seu cão salivante e a obra do neurofisiologista I. M. Sechenov. Antes disso, Edgar Allen Poe estudou grafologia. Toda a gente estava a tentar ligar o físico e o emocional. O corpo e o espírito. O mundo e a imaginação. Este mundo e o seguinte.
[...]
[Angel profere a seguinte asserção, depois de haver passado o dedo indicador de Misty sobre as letras pintadas na parede pelo comatoso Peter]:
– Se a emoção consegue criar acção física, então, o duplicar da acção física consegue recriar a emoção.» (pág. 66)


 Se fosse alemão, austríaco, suíço de cantão alemão ou até brasileiro gaúcho de origem alemã, ter tamanho apelido seria certamente uma privilégio, cujo sufixo gutural ganha especial proeminência.
Se fosse alemão, austríaco, suíço de cantão alemão ou até brasileiro gaúcho de origem alemã, ter tamanho apelido seria certamente uma privilégio, cujo sufixo gutural ganha especial proeminência.Das restantes obras destacam-se, entre outras, as suas primeiras deambulações pela poesia lírica, como por exemplo a peça dramática em verso A Morte de Ticiano (1892), passando, mais tarde, a dedicar-se numa quase exclusividade à dramaturgia, área onde se sentia mais apto para desenvolver as suas pulsões estéticas, manifestando no seu famoso ensaio ficcional Carta de Lord Chandos (Ein Brief, 1902), redigida a 22 de Agosto de 1603 pelo distinto Philip (Lord Chandos), filho mais novo do Conde de Bath, ao filósofo e político Francis Bacon (1561-1626), em tom de elegia pelo abandono prematuro das artes literárias, pela sentida insuficiência da linguagem como meio de expressão do mundo. Destacam-se, ademais, obras como a adaptação para teatro da obra moral inglesa Everyman do século XV, Todo-o-Mundo (Jedermann, 1911)*, peça que iria marcar durante anos consecutivos o Festival de Salzburgo, apresentada pela primeira vez em 1920; e, por exemplo, A Torre (1925).
Andreas é uma obra ficcional em prosa que, segundo a contracapa da edição da Relógio D’Água, começou por ser imaginada pelo próprio autor em 1905, conforme uma entrada no seu diário, com o objectivo de este estabelecer uma reconciliação com a sua infância – o título original completo na nossa língua seria Andreas ou a Reconciliação. Todavia, por ironia do destino, Andreas é uma obra inacabada e apenas foi publicada postumamente, em 1932, dada a morte inopinada e fulminante do seu autor a 15 de Julho de 1929 – contava 55 anos –, vítima de um ataque cardíaco, ao que se supõe motivado pelo terrível desgosto que o ensombrou quando, dois dias antes, o seu filho mais novo, Franz, se suicidou.
A novela inacabada de Hofmannsthal narra um curto período da vida de Andreas von Ferschengelder, um mancebo austríaco de 22 anos pertencente à baixa nobreza vienense, que deixa, em Setembro de 1778, a sua terra natal rumo a Veneza, numa viagem financiada pelos pais, para que aquele, imbuído do seu inebriamento diletante, pudesse conhecer o mundo através do contacto com outros povos e culturas, e realidades distintas.
«O seu pai ficaria muito satisfeito por saber isso, estava sempre muito interessado em tomar conhecimento das particularidades e curiosidades de outros países e de outros costumes.» (pp. 14-15)
No entanto, a sua estadia em Veneza é desde logo marcada pela inquietação, quando o barqueiro que o trouxe deixa as suas malas estendidas numa escada de pedra no cais de desembarque e o jovem Andreas se vê completamente isolado, à seis da madrugada e sem alguém a quem recorrer:
«Lindo serviço! (…) Isto está a ficar bonito… deixar-me aqui sem mais nem menos. Carruagem, em Veneza não há, que eu bem sei. Moço de fretes? Que poderia ele andar a fazer por estas bandas, num recanto ermo como este, um verdadeiro cu de judas? (…) Entretanto, rasgando o silêncio da manhã ouviram-se passos apressados que ressoavam nítidos nas lajes da rua (…) de uma ruela surgiu, por fim, um vulto mascarado (…)» (pág. 7)
Andreas aborda o homem mascarado e, de súbito, percebe que, debaixo da capa de dominó, este apenas envergava uma camisa para além de uns sapatos sem fivela e umas meias enroladas que deixavam entrever a barriga das pernas.
Na abertura da novela prenuncia-se a mundanização de uma alma até então pura, a perda da inocência, o desmoronar de toda a credulidade que cegava o bom selvagem, a conquista da experiência de vida que, inevitavelmente, se faz por tentativas e erros, pela dor ou pelo sofrimento infundidos por actos malsucedidos ou fracassados.
Sem as profundidade e capacidade encantatória de romances ou novelas similares de autores seus contemporâneos de língua alemã, lembrando-me de, também seu compatriota, Robert Musil (1880-1942) e o seu Törless, Robert Walser (1878-1956) e o seu Jakob von Gunten, ou mesmo de Thomas Mann (1875-1955) e o seu Tonio Kröger, Andreas, apesar de na versão portuguesa se estender por apenas noventa páginas, não é uma obra de leitura fácil, dado o emaranhado de pormenores, porquanto uma leitura desatenta obrigará certamente a um generoso retrocesso nas páginas, e até pelo forte teor simbólico que Hofmannsthal lhe quis atribuir.
Apenas uma última nota para a tradução: sofrível. Para além da utilização abusiva, por todo o livro, do pleonasmo, normalmente decorrente do seu uso abundante na oralidade, “há anos atrás”, fica um erro, bastante comum nos tempos que correm, mas que me irrita particularmente: «Ia desfolhando o livro vagarosamente…» (pág. 31) Só a imagem que sobrevém à minha mente de um livro a ser despojado das suas folhas, já é motivo de irritação. No meu entender e apesar do seu uso frequente como palavras sinónimas, “folhear” é assaz diferente de “desfolhar”, mas deixo isso aos linguistas.
Classificação: **** (Bom)
Referência bibliográfica:
Hugo von Hofmannsthal, Andreas. Lisboa: Relógio D’Água, 1.ª edição, Abril de 2007, 90 pp. (tradução de Leopoldina Almeida; obra original: Andreas oder die Vereinigten, 1932).
*A propósito do último romance do escritor norte-americano Philip Roth, Everyman, editado este ano entre nós pelas Publicações Dom Quixote, de realçar que Jedermann de Hugo von Hofmannsthal já se encontrava editado em Portugal, pelo menos no ano de 1986, sob a chancela da Estante, com tradução de João Barrento.
Como há pouco mais de dois meses expliquei aqui, normalmente não encadeio as inúmeras cadeias que percorrem a blogosfera. No entanto, desta vez, dado o convite do Sérgio e da Mónica para nomear os últimos cincos livros que passaram, de forma mais aprofundada, pelos meus olhos, não irei negar o convite que me foi dirigido, não só devido ao assunto desta corrente, que como sabeis me é muito caro, mas também, e sobretudo, como uma forma de evidenciar o remorso que se apoderou de mim quando não dei sequência à corrente blogosférica anterior.
Os meus últimos cinco livros (algumas leituras facilmente comprováveis pela exibição da minha apreciação, se publicados em 2007):
Estou a ler:
A reler:
Para minha expiação passo a palavra ao Paulo Kellerman, ao André Benjamim, à Fátima Pinto Ferreira, ao Carlos Araújo Alves e, já agora, às minhas estimadas Misses Woody & Allen, pela glosa na anterior cadeia.
 Houve já quem lhe tivesse chamado “o Dan Brown dos intelectuais”. Outros ainda deixaram de o ler quando verificaram que Kafka à Beira-Mar – o terceiro livro do autor a ser publicado em Portugal – se manteve, durante um tempo considerável, em posição cimeira nos tops de vendas de livros no nosso país, como se popularidade fosse sinónimo de mau gosto, de iliteracia e implicasse, desde logo, a menor qualidade do produto vendido.
Houve já quem lhe tivesse chamado “o Dan Brown dos intelectuais”. Outros ainda deixaram de o ler quando verificaram que Kafka à Beira-Mar – o terceiro livro do autor a ser publicado em Portugal – se manteve, durante um tempo considerável, em posição cimeira nos tops de vendas de livros no nosso país, como se popularidade fosse sinónimo de mau gosto, de iliteracia e implicasse, desde logo, a menor qualidade do produto vendido. Há 30 anos, no dia 2 de Julho de 1977, morria no Palace Hotel de Montreux, Suíça, o escritor russo Vladimir Vladimirovich Nabokov (n. 22 de Abril de 1899), vítima de uma infecção viral.
Há 30 anos, no dia 2 de Julho de 1977, morria no Palace Hotel de Montreux, Suíça, o escritor russo Vladimir Vladimirovich Nabokov (n. 22 de Abril de 1899), vítima de uma infecção viral. Quando há doze anos comecei a dar aulas – hoje, a despeito da eventual mutabilidade opinativa provocada pela envolvente, intuo haver-se tratado do maior erro da minha vida – tudo aquilo que não pretendia ser, em razão até de um resultado longamente depurado da minha observação desde a franja exterior mais próxima do mundo académico, era tornar-me num reles assistente pedante e obsequioso, radicado num lamaçal até à cintura, movendo-me, num rigoroso tropismo, pela luz cintilante de tão eruditas cabeças pensantes, que mais não faziam que descarregar o seu recalcamento bilioso por, outrora, haverem sido reles assistentes. Porquanto, visto de fora, existia todo um processo de sucessão dinástica – profundamente endogâmica, mas essa é outra história – e que se me afigurava como uma transmissão em cadeia de sadismos, cuja origem não descortino, mas que se distingue pela marca lusa do pequeno e medíocre autocrata que habita o nosso corpo – daí a imparável reprodução de sósias de Margarida Moreira, Rui Rio e Correia de Campos, para apenas nomear os casos mais recentes e à vista do insuperável poder mediático.
Quando há doze anos comecei a dar aulas – hoje, a despeito da eventual mutabilidade opinativa provocada pela envolvente, intuo haver-se tratado do maior erro da minha vida – tudo aquilo que não pretendia ser, em razão até de um resultado longamente depurado da minha observação desde a franja exterior mais próxima do mundo académico, era tornar-me num reles assistente pedante e obsequioso, radicado num lamaçal até à cintura, movendo-me, num rigoroso tropismo, pela luz cintilante de tão eruditas cabeças pensantes, que mais não faziam que descarregar o seu recalcamento bilioso por, outrora, haverem sido reles assistentes. Porquanto, visto de fora, existia todo um processo de sucessão dinástica – profundamente endogâmica, mas essa é outra história – e que se me afigurava como uma transmissão em cadeia de sadismos, cuja origem não descortino, mas que se distingue pela marca lusa do pequeno e medíocre autocrata que habita o nosso corpo – daí a imparável reprodução de sósias de Margarida Moreira, Rui Rio e Correia de Campos, para apenas nomear os casos mais recentes e à vista do insuperável poder mediático.