
Texto (post) n.º 450
Até às 22:30 de 31 de Março de 2008 (desde 2 de Dezembro de 2006):
40.288 visitantes
52.050 páginas visitadas
Fonte: eXTReMe Tracking
«Glenn Gould said, "Isolation is the indispensable component of human happiness."» [Contraponto] «How close to the self can we get without losing everything?»
Don DeLillo, “Counterpoint”, Brick, 2004.


Sinatra & Jobim
(estado em que se encontra este blogue: melancolia, saudade,... feeling blue...)



Richard Widmark
(26 de Dezembro de 1914 – 24 de Março de 2008)
Um mecânica tétrica: este blogue, nos últimos dias, reaparece da bruma depressiva para anunciar mortes…


Paul Scofield
(21 de Janeiro de 1922 – 19 de Março de 2008)
Filho da prodigiosa escola dramática inglesa, muitas vezes comparado ao gigante Laurence Olivier, notabilizou-se sobretudo no teatro, colaborando em menos de três dezenas de obras de longa-metragem cinematográfica.
O seu ponto alto na 7.ª Arte deu-se em 1966 interpetando o papel do humanista Sir Thomas More em Um Homem para a Eternidade (A Man for All Seasons), realizado pelo austro-americano Fred Zinnemann (1907-1997), que lhe valeu o Óscar para Melhor Actor em 1967, derrotando nomes como Alan Arkin (em Vêm Aí os Russos de Norman Jewison), Richard Burton (em Quem tem medo de Virginia Woolf? de Mike Nichols), Michael Caine (em Alfie de Lewis Gilbert) e Steve McQueen (em Yang-Tsé em Chamas de Robert Wise).

«Às quatro em ponto, os homens emergem pálidos da pequena tipografia, como fantasmas pestanejantes, até que a luz do exterior vence o olhar constante da iluminação interior que a eles se agarra. No Inverno, a esta hora, a Pine Street está na penumbra, a escuridão insiste desde cedo para se estender desde a montanha erguida sobre a estagnada cidade de Brewer; mas agora, no Verão, os passeios de granito salpicados de mica e as filas de casas diferenciadas pelo revestimento manchado de tábuas falsas e pelos pequenos e esperançosos alpendres com os seus arcos irregulares e as caixas cinzentas para as garrafas de leite e árvores ginkgo sujas de cinza e os carros a cozerem no passeio estremecem sob o brilho de uma explosão gelada. A cidade, na intenção de reanimar o centro decadente, derrubou quarteirões de edifícios para criar parques de estacionamento, de modo que as ruas, outrora compactas, são invadidas por uma vastidão desolada de ervas e entulho, expondo as fachadas das igrejas nunca vistas ao longe e gerando novas perspectivas de entradas traseiras e pequenos becos e intensificando a cruel grandiosidade da luz. O céu está limpo mas incolor e dele paira uma humidade esbranquiçada ao estilo típico dos Verões da Pensilvânia, que só servem para fazer crescer as coisas verdes. Os homens nem sequer se bronzeiam; cobertos por uma película de transpiração, amarelecem.
Um homem e o seu filho – Earl Angstrom e Harry – encontram-se entre os tipógrafos que saem do trabalho. (…)»
John Updike; Regressa, Coelho (Civilização, 2008, pág. 7; trad. Carmo Romão).
Nota: A listagem, de elaboração própria – por enquanto mantida no segredo dos deuses por mera preguiça que, por sua vez, fica a dever-se a um temor informático dos potenciais problemas de formatação – já referida noutras ocasiões, de 50 obras essenciais de 10 autores norte-americanos contemporâneos (ou quase) nunca publicadas em português de Portugal, sofreu, com o acontecimento acima relatado, uma ligeira alteração: o “50” passa a “49”, número de obras não traduzidas. OK, está bem, revelo pelo menos os apelidos dos autores:
Barth, Barthelme (R.I.P.), Bellow (R.I.P.), DeLillo, Foster Wallace, Nabokov (R.I.P.), Pynchon, Roth, Rush e Updike.
.jpg) É um terrível lugar-comum, mas atrevo-me a renová-lo afirmando que uma paixão não se explica, nem sequer se discute. Não há racionalidade que permita compreender o arrebatamento, a agitação, o caldeirão fervente de emoções humanas perante o objecto elevado à idolatria. Sou assim com Auster, como fui com outros ídolos da juventude, do futebol à fórmula 1, do cinema à música. Tive talvez a sorte (ou o azar, para muitos, os que censuram esta minha admiração incondicional) de me iniciar com A Trilogia de Nova Iorque (The New York Trilogy, 1987), que me levou a ler de uma assentada A Música do Acaso (The Music of Chance, 1990) e Leviathan (1992) – por feliz coincidência, continua a ser o meu trio preferido de obras de Auster, dos 165 conjuntos de três obras, diferentes entre si, que permitem combinar os 11 romances até hoje publicados e por mim lidos na íntegra (ou 13?*)
É um terrível lugar-comum, mas atrevo-me a renová-lo afirmando que uma paixão não se explica, nem sequer se discute. Não há racionalidade que permita compreender o arrebatamento, a agitação, o caldeirão fervente de emoções humanas perante o objecto elevado à idolatria. Sou assim com Auster, como fui com outros ídolos da juventude, do futebol à fórmula 1, do cinema à música. Tive talvez a sorte (ou o azar, para muitos, os que censuram esta minha admiração incondicional) de me iniciar com A Trilogia de Nova Iorque (The New York Trilogy, 1987), que me levou a ler de uma assentada A Música do Acaso (The Music of Chance, 1990) e Leviathan (1992) – por feliz coincidência, continua a ser o meu trio preferido de obras de Auster, dos 165 conjuntos de três obras, diferentes entre si, que permitem combinar os 11 romances até hoje publicados e por mim lidos na íntegra (ou 13?*)«Uma grandiosa obra de literatura pela mão de um monstro da fábula moderna norte-americana.»
«Tinha doze anos quando caminhei sobre as águas pela primeira vez. Foi o homem de preto quem me ensinou a fazer isso e não vou pôr-me para aqui com histórias e dizer que aprendi o truque da noite para o dia. Quando o Mestre Yehudi me descobriu tinha eu nove anos e era um dos muitos órfãos que mendigavam nas ruas de Saint Louis, e só ao fim de três anos de um treino incessante é que ele me deixou mostrar as minhas habilidades em público. Isso aconteceu em 1927, o ano de Babe Ruth e Charles Lindbergh, esse mesmo ano em que a noite começou a cair sobre o mundo para todo o sempre. Continuei a trabalhar até poucos dias antes do crash de Outubro e devo dizer que aquilo que fiz nesse poucos anos foi maior do que tudo o que aqueles dois cavalheiros possam ter sonhado. Eu fiz o que nenhum americano tinha feito antes de mim, o que ninguém fez desde então.»
Paul Auster, Mr. Vertigo (pág. 7)
«Nunca quis trabalhar noutra coisa.»
Classificação: ***** (Muito Bom)
Referência bibliográfica
Paul Auster, Mr. Vertigo. Porto: Asa, 1.ª edição, Março de 2008, 304 pp. (tradução de José Vieira de Lima; obra original: Mr. Vertigo, 1994).
Nota: *A contagem não é pacífica, embora, pela minudência da questão, não seja objecto de polémica. O 12.º romance de Paul Auster, Man in the Dark, vem a caminho, será publicado nos Estado Unidos no próximo mês de Agosto e, provavelmente, tê-lo-emos em português no próximo Natal. No entanto, há quem inicie a contagem das obras de ficção de meia e longa narrativa do autor norte-americano, a partir da novela ou romance curto “Cidade de Vidro” (City of Glass) publicado em 1985, desdobrando assim a famosa Trilogia, que prosseguiu com a publicação em separado de “Fantasmas” (Ghosts) em 1986 e que apenas ganhou corpo como um trio de obras com a conclusão de “O Quarto Fechado” (The Locked Room) no mesmo ano. Em 1987, por sugestão da editora inglesa Faber & Faber, as três histórias formaram-se como partes integrantes e perfeitamente indissociáveis de uma só obra, A Trilogia de Nova Iorque e daí, dada essa trindade que apenas ganha sentido na unidade, preferir o “11” como número de obras de ficção publicadas por Auster, e isto, claro, no dia em que escrevo este texto.

 Anthony Minghella
Anthony Minghella Winfried Georg Maximilian Sebald
Winfried Georg Maximilian Sebald 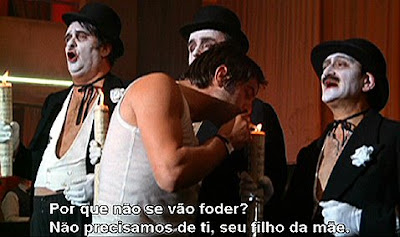
 Para os pynchonianos do nosso burgo, que lêem há anos, pelo menos desde 1963, as obras do esquivo, obscuro e admirável autor norte-americano Thomas Pynchon (n. 1937), informo que, após um das minhas cada vez mais raras perambulações pelas ruas da baixa – que, por tradição, inclui sempre uma visita à Livraria Leitura (agora pertença do império Bulhosa) em busca de raridades que escapam à indexação cibernética –, avistei uma das suas duas únicas obras que se encontram traduzidas para português de Portugal: V. (1964), da extinta Editorial Notícias, com edição de Fevereiro de 2000 (estavam disponíveis dois exemplares). Logo, aconselha-se ao mais empedernido dos pynchonianos uma rápida visita à livraria da José Falcão (a entrada da Rua de Ceuta, junto à Livros do Brasil, está fechada).
Para os pynchonianos do nosso burgo, que lêem há anos, pelo menos desde 1963, as obras do esquivo, obscuro e admirável autor norte-americano Thomas Pynchon (n. 1937), informo que, após um das minhas cada vez mais raras perambulações pelas ruas da baixa – que, por tradição, inclui sempre uma visita à Livraria Leitura (agora pertença do império Bulhosa) em busca de raridades que escapam à indexação cibernética –, avistei uma das suas duas únicas obras que se encontram traduzidas para português de Portugal: V. (1964), da extinta Editorial Notícias, com edição de Fevereiro de 2000 (estavam disponíveis dois exemplares). Logo, aconselha-se ao mais empedernido dos pynchonianos uma rápida visita à livraria da José Falcão (a entrada da Rua de Ceuta, junto à Livros do Brasil, está fechada).«Ria-me nalgumas partes, chorava noutras, e que mais pode uma pessoa querer de um livro senão isso mesmo – a possibilidade de sentir o delicioso aguilhão da alegria e a ferroada terrível da tristeza? Agora que chegou a minha vez de escrever um livro, não há um único dia em que não pense em Esopo lá em cima no seu quarto. Já lá vão sessenta e cinco Primaveras, mas é como se eu estivesse ainda a vê-lo sentado à secretária, rabiscando no papel almaço, avançando na redacção das suas memórias juvenis, enquanto a luz que se coava pela janela fazia ressaltar as partículas de poeira que dançavam à volta dele. Se me concentrar um pouco mais, ainda consigo ouvir a sua respiração, o ar que entrava e saía dos seus pulmões, ainda consigo ouvir o aparo da caneta arranhando o papel.»
Paul Auster, Mr. Vertigo, pág. 94
(Porto: Asa, 1.ª edição, Março de 2008, 306 pp.; tradução de José Vieira de Lima; obra original: Mr. Vertigo, 1994)
 Como o prometido é devido, publico aqui, com tradução a meu cargo, a partir do original em inglês, um dos muitos e portentosos contos publicados pelo malogrado autor norte-americano Donald Barthelme (Filadélfia, PA, 7 de Abril de 1931 – Houston, TX, 23 de Julho 1989).
Como o prometido é devido, publico aqui, com tradução a meu cargo, a partir do original em inglês, um dos muitos e portentosos contos publicados pelo malogrado autor norte-americano Donald Barthelme (Filadélfia, PA, 7 de Abril de 1931 – Houston, TX, 23 de Julho 1989). .jpg)
"Chablis", DB. Amanhã.


É verdade, sou um listómano. Confesso, sem sombra de vergonha – afinal, trata-se de uma das facetas da minha indestrutível natureza pubertária –, a minha mania obsessivo-compulsiva de ordenar, classificar, qualificar os meus gostos, prazeres, encantamentos, ódios de estimação em listas, na maioria das vezes hierarquizadas.
Há pouco, enquanto deambulava pela rede, descobri a lista dos livros preferidos do escritor britânico (nascido acidentalmente em Paris, pelas funções de embaixador exercidas pelo pai) William Somerset Maugham (1874-1965). Não é que o autor faça ressoar as minhas campainhas da beleza e do espanto literários, aliás suponho que dos seus livros apenas um passou pelos meus olhos de ávido leitor – e foi o suficiente, por enquanto –, mas, curiosamente, quando num destes dias discutia literatura e gostos literários com a minha, outrora bibliófila, mãe, ela confessava-me que não só admirava os livros de Maugham – já na fase pós Condessa de Ségur (Sophie Feodorovna Rostopchine) –, havendo-os lido todos, como também os de outro escritor que, sinceramente, para mim e para o ponderado mundo literário contemporâneo, é-me completamente indiferente, falo do outrora popularíssimo autor norte-americano Irving Wallace (1916-1990), ele próprio um listómano, vejam-se os três volumes, publicados, respectivamente, em 1977, 1980 e 1983, do The Book of Lists.
Suponho que foi Jorge Silva Melo que, em conversa com Paula Moura Pinheiro, referiu a interessante mutabilidade dos gostos literários em Portugal – afirmando, no entanto, que o fenómeno não é exclusivamente nacional. Se atentarmos nos nomes de autores estrangeiros que encabeçavam as listas de vendas das livrarias portuguesas nas décadas de 60 e 70 do século passado, notamos que, apesar de se manter a avidez pela leitura dos denominados clássicos, alguns desses nomes e as suas obras foram relegados para segundo plano, substituídos por outros que lhes foram contemporâneos ou até mais antigos. À excepção de uns poucos, como Tolstói, Dostoievski, Hemingway, Steinbeck, Austen, as manas Brontë ou Kafka, hoje dificilmente conseguimos encontrar um numeroso conjunto de leitores de Graham Greene, Thomas Mann, Máximo Gorki, Chesterton, Jack London, John dos Passos, Leon Uris, Yourcenar, Morris West e até Doris Lessing, cuja literatura foi, todavia, recentemente ressuscitada pela atribuição do Nobel.
Não sei se os antigamente populares Irving Wallace, Morris West, ou mesmo Maugham, foram substituídos por autores cuja qualidade literária os consegue sobrelevar – também não os leio. Mas já não aguento entrar numa livraria nacional e ser acometido de uma cegueira súbita e, felizmente, transitória, pela iridescência de um mau gosto atroz dos frontispícios dos Sparks, Modignani, Nora Roberts, Allende, Paulo Coelho, Joanne Harris, Steel, já para nem falar dos livros de presuntivos escritores nacionais, que escondem, atrás do seu brilho, senão expulsando de todo para o pó dos armazéns, a literatura que gostaríamos não só de ler, como de dar a ler àqueles de quem gostamos. No Porto, pelo menos, não há nenhuma livraria que ponha cobro a este peste do popularucho e vendável.
Sem mais delongas, eis a tal lista de Somerset Maugham – cujas obras referenciadas, à excepção do estranhamente desaparecido dos escaparates lusos Henry Fielding, ainda hoje têm mercado:


Nem me atrevo, sequer, a conjecturar sobre a data de publicação em Portugal…
Nota: via fonte (normalmente) bem informada, o blogue do basco Aitor Alonso.

.jpg) Um dos mais belos livros de Auster (logo, da História da Literatura, e aqueles que, infelizmente, me vão conhecendo através destas miseráveis linhas diárias entendem a plausibilidade desta minha afirmação) encontrava-se esgotado há anos no mercado editorial português. Falo do admiravelmente mágico Mr. Vertigo – figura de estilo: austérbole, ou hipérbole austeriana, por vezes pode metamorfosear-se numa simples perífrase samsa(?) –, publicado originalmente por Paul Auster em 1994. É o seu 6.º romance – 8.º se desmantelarmos a Trilogia em Cidade de Vidro (City of Glass, 1985), Fantasmas (Ghosts, 1986) e O Quarto Fechado (The Locked Room, 1986) –, seguiu-se, então, à Trilogia de Nova Iorque (New York Trilogy, 1987); No País das Últimas Coisas (In the Country of the Last Things, 1987); Palácio da Lua (Moon Palace, 1989); A Música do Acaso (The Music of Chance, 1990) e Leviathan (1992).
Um dos mais belos livros de Auster (logo, da História da Literatura, e aqueles que, infelizmente, me vão conhecendo através destas miseráveis linhas diárias entendem a plausibilidade desta minha afirmação) encontrava-se esgotado há anos no mercado editorial português. Falo do admiravelmente mágico Mr. Vertigo – figura de estilo: austérbole, ou hipérbole austeriana, por vezes pode metamorfosear-se numa simples perífrase samsa(?) –, publicado originalmente por Paul Auster em 1994. É o seu 6.º romance – 8.º se desmantelarmos a Trilogia em Cidade de Vidro (City of Glass, 1985), Fantasmas (Ghosts, 1986) e O Quarto Fechado (The Locked Room, 1986) –, seguiu-se, então, à Trilogia de Nova Iorque (New York Trilogy, 1987); No País das Últimas Coisas (In the Country of the Last Things, 1987); Palácio da Lua (Moon Palace, 1989); A Música do Acaso (The Music of Chance, 1990) e Leviathan (1992).«Eu tinha doze anos na primeira vez que caminhei sobre a água. O homem vestido de negro ensinou-me a fazê-lo, e não vou fingir que aprendi o truque da noite para o dia. O Mestre Yehudi encontrou-me quando eu tinha nove anos, era um órfão que mendigava por tostões nas ruas de Saint Louis, e trabalhou perseverantemente comigo durante três anos antes de me autorizar a exibir o meu número em público. Isso foi em 1927, o ano de Babe Ruth e de Charles Lindbergh, no preciso ano em que a noite começou a cair no mundo para sempre. Continuei a representar até poucos dias antes do crash bolsista de Outubro de 29, e o que eu fiz era maior do que algo que esses dois senhores pudessem ter sonhado. Fiz o que nenhum americano fizera antes de mim e que ninguém jamais fez desde então.»
[Tradução: AMC, 2008; a partir da versão original (em inglês) Mr. Vertigo (1994), New York: Viking Books (Penguin)].
«Quais são os autores cujos livros são normalmente seus vizinhos nas prateleiras das livrarias?»
Ao que Coupland respondeu:
«Do lado esquerdo está uma escritora chamada Catherine Cookson (que provavelmente sabe tanto de mim como eu dela). No lado direito desconheço. Um dia Ms. Cookson e eu ficaremos presos num elevador na Barnes & Nobel da Union Square – e depois iremos beber uns copos e rir acerca disto – e talvez pregar uma partida pelo telefone à misteriosa personagem do lado direito.» [tradução livre: AMC]
«Mas isto já me acontecera mais do que uma vez na vida: recusara-me a permitir que as convenções determinassem a minha conduta para afinal aprender, depois de ter percorrido o meu próprio caminho, que os meus fundamentais e entranhados sentimentos eram mais convencionais do que a minha noção de inabalável imperativo moral.
[…]
Enfim, aprendemos com os nossos próprios erros. “Paciência”, pensei. “Quase se pode dizer que o dinheiro foi bem empregue para poder apreciar, uma vez mais, a comédia da nossa própria marca de presunçosa estupidez.”»
Philip Roth, Património, pp. 95-96
(Lisboa: Dom Quixote, 1.ª edição, Fevereiro de 2008, 214 pp.; trad. Fernanda Pinto Rodrigues; obra original: Patrimony, 1991)
(acompanhar com o texto, de preferência)
«Vós conheceis-me, não é verdade? Porquê? Porque sou uma celebridade. Faço rir as pessoas. Fiz rir toda a França. Mas se realmente o pudésseis entender… jamais vos haveríeis de rir. Bem pelo contrário. Homens como vós deveriam bater-me à porta suplicando-me que lhes contasse os meus segredos. Porque eu, René Gallimard, conheci e fui amado pela mulher perfeita.
Existe uma visão do Oriente que eu partilho: mulheres esguias, em qipaos e kimonos, que morrem pelo seu amor a indignos demónios estrangeiros. Elas nascem e são criadas para se tornarem mulheres perfeitas, aceitando qualquer tipo de castigo que lhes inflijamos e devolvem-no-lo fortalecido pelo amor. Incondicional. Esta visão converteu-se na minha vida.
O meu erro foi simples e absoluto. O homem que eu amei não era digno; não merecia sequer uma segunda oportunidade. Mas em troca eu dei-lhe o meu amor. Todo o meu amor.
O amor de que vos falo embotou os meus olhos. Por isso, agora, enquanto me olho ao espelho, não vejo mais que…
Eu tenho uma visão do Oriente. Nelas o mais profundo desejo morre, em silêncio. Mas continuam a ser mulheres. Mulheres dispostas a sacrificarem-se pelo amor de um homem. Mesmo por aquele cujo amor não merece respeito, é indigno. A morte com honra é preferível a uma vida com desonra.Assim… finalmente, aqui na prisão, longe da China, encontrei-a.O meu nome é René Gallimard…. Também conhecido por Madame Butterfly.»
David Cronenberg’s M. Butterfly (1993), com Jeremy Irons, baseado na peça homónima de David Henry Hwang [tradução livre/versão de AMC, 2008, a partir da audição do monólogo]
Uma das cenas que marcará toda a História do cinema, e que já imortalizou o Mestre David Cronenberg (apesar de alguns recentes ostracismos inter pares).